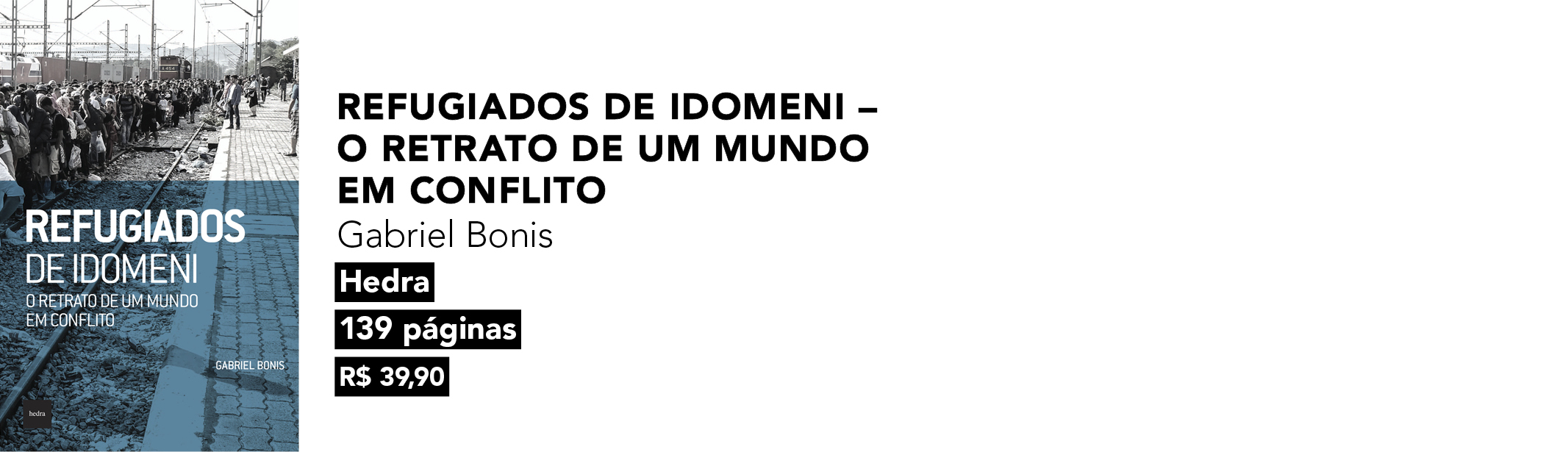cult
https://revistacult.uol.com.br/home/fim-de-uma-zona-de-espera-sem-fim/
 Acampamento para refugiados em Idomeni, na Grécia (Divulgação)
Acampamento para refugiados em Idomeni, na Grécia (Divulgação)
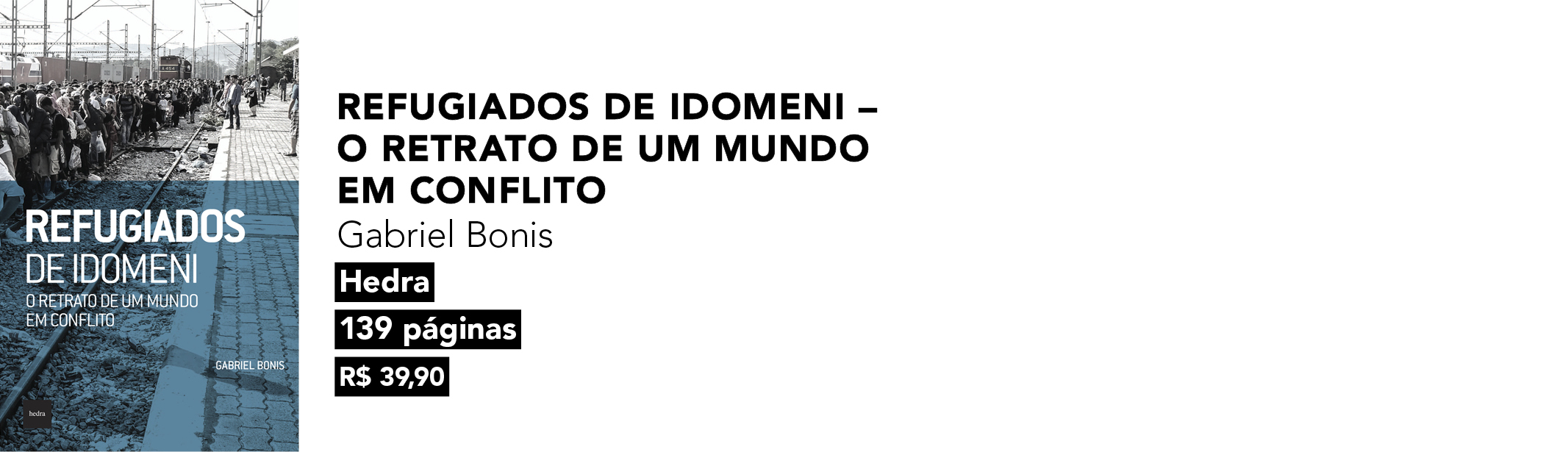
https://revistacult.uol.com.br/home/fim-de-uma-zona-de-espera-sem-fim/
Fim de uma zona de espera sem fim
Edição do mês Acampamento para refugiados em Idomeni, na Grécia (Divulgação)
Acampamento para refugiados em Idomeni, na Grécia (Divulgação)
Não começou em Auschwitz, não vai terminar em São Paulo. Quando todo o mundo parece insistir em marcar desencontros com o futuro, é nos campos de refugiados que se revela, mesmo a contragosto, uma autoimagem didática do tempo presente. Em meio a flagelos de guerra e limiares de naufrágio, entre passado recente e porvir iminente, tamanha atualidade se quer tão absoluta quanto intransitiva. Se viver segue sendo muito perigoso, dizê-lo de novo, em atmosfera de colapso, seria pouco menos que chuviscar no molhado. E tem mais: a crer no que se lê em Hannah Arendt, sabedora desse e de muitos assuntos conexos, cenas cotidianas da vida posta em perigo, por diminutas que pareçam à primeira vista, podem ser as primeiras gotas de um dilúvio.
Pois então, o caráter algo coloquial do livro de Gabriel Bonis banha nessas cenas (rápidas) a que se resumem os capítulos (concisos), conferindo concretude às pequenas e indispensáveis coisas da vida – a dos refugiados, antes de tudo. O que o autor quis, ao escrever, “foi recontar narrativas de indivíduos e famílias que abandonaram seus países de origem devido a conflitos e perseguições político-religiosas (entre outros tipos de perseguição) em busca de proteção no exterior, além de histórias de quem os ajudou in loco no norte da Grécia e de como a crise afetou os moradores de Idomeni”. Deslocados de guerra a um povoado rural, até então com pouco mais de 150 habitantes; imobilizados, com o encerramento da rota dos Bálcãs, nos limites de um “centro” ele mesmo deslocado (de centro de recepção a centro de acomodação, de transição provisória a acampamento gigantesco e sempre à beira do “colapso”, palavra esta que respinga ao longo de todo o livro e vai chumbando a imaginação do leitor ao rés do texto).
“Encurralados”, imigrantes forçados recebem do autor pseudônimos como Rami, vindo da Síria, Behnuz, do Irã, Karin, do Iraque, entre outros. Somos também apresentados à enfermeira francesa Jolien Colpaert, já na “espiral final” de Idomeni; ao professor alemão, Lukas Stelzner, férias interrompidas no sul do Brasil, lecionando voluntariamente sob tendas de um campo não oficial, na fronteira com a Macedônia; à hamburguesa Julia Vogelfrei, que “trocou um emprego bem estruturado com refugiados em seu país por um curto período de caos em Idomeni” e decidiu permanecer ali para filmar o conflito entre a polícia grega, encarregada de evacuar o centro de transição, e os que ali ficaram, “sitiados na fronteira”. Diz Vogelfrei: “Idomeni é próximo à fronteira. A liberdade estava ao alcance do horizonte, do outro lado da cerca”.
Quarentena infinita?
Graças ao prólogo de Erika Sallum, o leitor se beneficia com uma resposta inicial à questão “o que significa ser um refugiado?” (ver nossa Marginália). Mas vale dizer que se trata de um livro híbrido, se por isso entendermos que nele fala um mestre em Relações Internacionais, jovem pesquisador com especialidade em direito internacional de refugiados e com talento para aliar elementos precisos de uma investigação feita ao longo de sete meses, in loco, a vozes distintas, como as do repórter, moduladas também na urgência de quem se vê impelido a cumprir, in extremis, as múltiplas tarefas de um “ator humanitário”. De modo que as narrativas de indivíduos e famílias, recontadas, assumem ressonâncias mais amplas e suscitam questões outras, inclusive a de saber qual o sentido das desventuras reservadas a 65,3 milhões de displaced persons: sobretudo quando se sabe que, barradas e triadas e cadastradas, terminam sendo literalmente negociadas, como os 72 mil sírios, “imigrantes irregulares” que a Turquia receberá, com 6 bilhões de euros, prometidos até 2018 e provenientes da União Europeia. Outros tantos, todavia, já se mostram definitivamente “indeportáveis”, como grande parte dos que foram postos de lado pelas triagens em hotspots, por exemplo, na Líbia – segundo o presidente francês Emmanuel Macron, como asilados, esses descartes são “inelegíveis”.
Se nos ativermos aos dados fornecidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número beirava os 45 milhões em 2011. Hoje, portanto, algo como uma Grande São Paulo a mais. Ontem, pois nos tempos que correm a História se tornou algo acontecido na semana passada, os próprios termos do problema é que se colocavam em debate.
Não sei de melhor maneira de captar-lhe a envergadura, se não sugerindo logo ao leitor que abra O novo tempo do mundo – nas páginas em que Paulo Arantes pensa esses deslocamentos forçados e estacionados em “Zonas de espera”, uma das quais é, precisamente, a dos refugiados. Além de recordar, com Hannah Arendt, cenas que contam a pré-história europeia dos campos de concentração e, com Jean-François Bayart, o repertório da administração francesa que falava em “populações flutuantes”, atinamos para o alcance do tempo gerencial e punitivo, “do cárcere ao campo humanitário”. É todo um programa de estudos abalizados que, concentrado numa dezena de páginas, afina esquemas conceituais de autores como Benedict Anderson, Michel Agier, Zygmunt Bauman, reformulando os raciocínios de Joseph Torrente, os comentários vão contribuir para redefinir e adensar os próprios termos repostos em questão até chegarmos, por exemplo, no cerne jurídico-administrativo-punitivo expresso com as acuidades de um Günter Anders e da grande espera kafkiana.
Será igualmente proveitoso salientar que, nesse distanciamento crítico singular, os campos em causa podem funcionar como uma inusitada peça didática. Nela, desde os territórios da Cisjordânia ocupada, o que importa é que os refugiados aprendam a esperar: saiu de cena, portanto, aquela espera em que Ernst Bloch formava um público para melhor discernir a expectativa de uma revolução; entrou em cartaz a peça em que, às “sociedades impacientes”, ensina-se a disciplina apassivadora de uma espera no mínimo paradoxal, pois que ela corrompe sem fermentar e, no ritmo de expectativas decrescentes, parece delinear um laboratório contemporâneo de novas internações e confinamentos de tipo inédito.
Entretanto, acompanhando o arco que leva do Estado-Nação ao Estado-Policial, a escola onde realmente se aprende a esperar pode ser entrevista no “atroz trabalho inumanitário”, ali onde os próprios agentes, profissionalizados ou voluntariados, se acham à beira de mais um colapso, aparentado ao “colapso psicológico”, nos termos que Gabriel Bonis reservou para os refugiados nos momentos-limite, de muita chuva e de muito frio, em que o campo de Idomeni “alagava”; na mesma ordem de operar “da forma mais eficiente possível, ainda que precária”, compreende-se que a urgência permanente de cuidar de populações em escala tão descomunal possa redundar no adoecimento dos agentes, mesmo no caso de profissionais bem preparados para transitar em funções distintas. Sob a tensão do terror europeu organizado por polícias nacionais, difícil, até para os mais obstinados, afastar o sentimento difuso de estar “enxugando gelo”.
Sob o infravermelho da prosa crítica, o retrato redigido por Gabriel Bonis traça um nítido corte social, que separa grupos “privilegiados” (iraquianos, sírios, afegãos) e os de outra proveniência (Marrocos, Irã, Paquistão, Somália, Bangladesh), responsáveis por pichar a lona das tendas e propor uma inteiramente outra “união”. Processos acelerados de desigualdade social; humilhação administrada e seguida de formas degradadas de intervenção política ou de apropriações diretas de milícia interposta – a barbárie de Idomeni, em suma, torna-se contemporânea das barbaridades cometidas em escalas temporais e locais distintas, anagogicamente expostas à contraluz do capitalismo e de suas metamorfoses, “sem lado de lá”.
Embarcados nas ilhas
Em absoluto, não se trata de uma “visita guiada” a Idomeni. Bem longe do turismo humanitário, a verdadeira prova desse testemunho sempre se verifica em outra parte e talvez no dia seguinte à sua leitura, no modo como o nosso cotidiano se transforma à vista dessa “quase escravidão” para os trabalhadores, “imigrantes econômicos”, assim como para os que ficaram atolados em seus países de origem, “favelizados” aquém ou além da Mancha, ilhados em Lesbos, Quios, Samos.
Eu bem que gostaria de terminar esse texto me referindo a Karin, o jovem iraquiano que no último capítulo conta sua história, só chega a Idomeni dias após o fechamento da rota dos Bálcãs e sonha um sonho próprio, nisso, bem diferente de Rami, o jovem sírio que no primeiro capítulo sonha o sonho do pai, o de terminar seus estudos e tornar-se médico generalista. Mas deixo ao leitor o gosto de descobrir por que resolvi manter silêncio o momento que Gabriel Bonis chamou “Violoncelo”. Fiquei imaginando o que seriam duas versões da tão esbatida “Ode à Alegria”, ali no quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. A versão oficial, transformando uma obra-prima na reedição sinistra das interpretações difundidas em alto-falante, no horror dos campos de concentração, como os de Dachau – o próprio ministro do Interior grego não hesitou em declarar Idomeni como sendo “Dachau moderno”, “um resultado da lógica das fronteiras fechadas”. A versão outra, que alguém como o catalão Jodir Savall poderia reger, reinterpretar e que, sem recorrer a instrumentos musicais, reunisse um coro para evocar, à capela, por extenso sessenta milhões de vozes. Quem sabe teríamos ouvidos para ouvir o que esses números podem um dia significar.